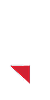Conjur
Por: Mateus Silva Alves
20 de setembro de 2020
O governo federal enviou ao Congresso no começo deste mês uma proposta de reforma administrativa que, de tão suave, nem merece ser chamada de reforma administrativa, na avaliação do advogado Valdir Simão, atualmente integrante da equipe do escritório Warde Advogados.
E se há alguém que tem conhecimento para falar sobre Administração Pública, este é Valdir Simão. Durante vários anos ele ocupou cargos que o colocaram no olho do "furacão" que é a máquina administrativa federal, notadamente quando foi ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e ministro-chefe da Controladoria Geral da União, ambos no governo de Dilma Roussef. Além disso, ocupou outras funções públicas de grande prestígio, como as de presidente do INSS, secretário da Fazenda, secretário-adjunto da Receita Federal e secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República.
Apesar de sua ligação com as administrações do Partido dos Trabalhadores, Simão não é só críticas à proposta apresentada pela gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ele, por exemplo, diz acreditar que seria praticamente impossível apresentar ao Parlamento um projeto mais aprofundado, já que a resistência a essa ideia seria gigantesca.
De qualquer maneira, o ex-ministro vê diversos problemas na proposta do atual ocupante do Palácio do Planalto. O principal, para ele, é o risco de fragilização das carreiras que não sejam consideradas de Estado, como as da saúde e da educação. O que, em sua opinião, pode tornar piores serviços que já são ruins. Além disso, Simão criticou enfaticamente o fato de a proposta só alcançar os servidores do Poder Executivo — "esquecendo-se" do Judiciário e do Legislativo.
Em entrevista exclusiva à ConJur, o advogado falou sobre esses e outros tópicos da proposta de reforma administrativa. Para ele, caso o projeto seja aprovado, levará pelo menos cinco anos até que seus efeitos sejam sentidos pelos combalidos cofres do governo federal.
ConJur — Quais foram as suas primeiras impressões sobre a proposta de reforma administrativa que o governo apresentou ao Congresso?
Valdir Simão — Talvez seja uma pretensão chamar a proposta de reforma administrativa. Está muito mais para uma reforma da política de recursos humanos do governo. Ela não cuida de aspectos centrais, em especial a organização das funções de governo. Como é que se ganha mais eficiência, mais celeridade, como se diminui burocracia… Coisas desse tipo. Então é muito mais voltada para as carreiras e com uma intenção muito clara de reduzir o impacto da folha de pagamento na despesa primária do governo. Não que essa discussão não seja válida, mas estamos vendo somente a ponta do iceberg. Nós não sabemos o que virá depois, por intermédio de lei complementar e lei ordinária. O governo não apresentou o conjunto das propostas.
ConJur — O fato de a proposta não ter chegado ao Congresso completa é o seu principal problema?
Simão — Do ponto de vista da análise do impacto, talvez seja, sim. Ao mesmo tempo, ela traz alguns aspectos preocupantes. Um deles é a autorização dada ao presidente da República para tratar por decreto da criação, fusão ou extinção de ministérios e órgãos diretamente relacionados a ele, assim como a extinção, transformação e inclusão de entidades da Administração Pública, a transformação de cargos públicos efetivos vagos… Na minha opinião, a proposta concentra muito poder nas mãos do presidente da República e fragiliza a segurança que você precisa ter em algumas estruturas de governo que não podem ser descontinuadas ou alteradas. O governo não é uma empresa. Não dá para ficar ajustando a operação, a estrutura, de acordo com o interesse do governo que está naquele momento. O aspecto estabilidade é importante nas estruturas administrativas do governo.
ConJur — O senhor acredita que esse "detalhe" seja uma inclinação autoritária do presidente da República?
Simão — Olha, eu nem acho que tenha sido algo do presidente. É que o governo federal, sempre que precisa alterar alguma estrutura administrativa, precisa ir até o Congresso, e isso dá trabalho. Não me parece que essa iniciativa seja algo de interesse pessoal do presidente, talvez seja o desejo de uma burocracia que está lá de plantão hoje. Mas aqui me parece que se passou um pouco do limite, porque você não pode, por decreto, extinguir uma autarquia como, por exemplo, o INSS.
ConJur — Sem dúvidas...
Simão — Então, há de se ter alguns cuidados aqui porque a gente não está fazendo uma reforma para o presidente atual. Estamos fazendo uma reforma que vai para a Constituição, a liberdade que ela dá ao presidente atual será dada também aos próximos. Então a gente precisa evitar qualquer tipo de excesso, de centralização de poder, que possa causar impacto negativo na Administração.
ConJur — O fim da estabilidade para boa parte dos servidores públicos, como era esperado, tornou-se o foco central das discussões sobre a proposta do governo. O senhor é a favor dessa ideia?
Simão — Eu não diria que a questão central é a estabilidade, mas, sim, a falta de um sistema de avaliação de desempenho. A proposta reserva a estabilidade somente para atividades típicas de Estado, que ainda serão definidas. O que a gente percebe é que o governo pretende que algumas atividades possam ser executadas mediante um arranjo com organizações sociais, ou mesmo contratos com empresas. Até aí, eu não vejo problema. A questão é saber quais são as atividades que o governo vai classificar como típicas de Estado, e que terão estabilidade. É claro que logo vêm à cabeça algumas atividades como as de diplomacia, auditoria, fiscalização, polícia, mas a gente não pode esquecer que há muitas carreiras que não são hoje consideradas típicas de Estado, mas que lidam com recursos públicos, como por exemplo atendente do INSS. Porque ele fica lá com um talão de cheques na mão podendo reconhecer o direito a um benefício que será pago para o resto da vida. Então que garantias nós temos de que algumas atividades sem estabilidade não serão objeto de um manejo indevido para fins políticos? Mas eu sempre digo que a estabilidade é um falso problema.
ConJur — Por quê?
Simão — Porque a estabilidade não impede a demissão do servidor no caso de infração administrativa, nem por insuficiência de desempenho. A questão é que essa insuficiência de desempenho até hoje não foi regulamentada. Esse é um aspecto bem importante, porque se a avaliação de desempenho for utilizada como um instrumento de pressão, de intimidação, isso será muito negativo para a Administração Pública. A avaliação precisa ser feita de forma transparente, com a participação da sociedade, de uma maneira em que o servidor se sinta estimulado a produzir adequadamente e que tenha condições de apresentar uma defesa se for mal avaliado. Mas esse problema não é o pior.
ConJur — E qual é?
Simão — É a introdução do conceito de contratação com vínculo de experiência, em que o servidor que passa pelo concurso público fica um tempo sob esse vínculo, uma etapa que ainda é considerada uma fase do concurso. Para as carreiras típicas de Estado, esse prazo será de dois anos. Aqui há um questionamento que eu faço: são necessários dois anos para saber se a pessoa tem capacidade? Isso me parece exagerado, ninguém vai arriscar dois anos da sua vida profissional sem ter alguma segurança. E como é que fica a segurança jurídica dos atos praticados por esse servidor no período de dois anos em que ele não estava efetivado? Imagine, por exemplo, um auditor fiscal que lavrou um auto de infração e depois de dois anos não foi efetivado. Ou ele vai ficar dois anos sem trabalhar em atividades relacionadas a seu cargo? Essa talvez seja a minha maior crítica a essa proposta.
ConJur — Ou seja, na avaliação do senhor a proposta do governo ataca o que não precisa ser atacado e deixa de atacar o que realmente faria a diferença…
Simão — Exatamente, exatamente… Acho que a apresentação do governo deveria demonstrar como é que funcionarão as estruturas, pelo menos do governo federal, o autor da proposta. Senti falta disso. A relação da Administração Pública com o cidadão, com o contribuinte, não está muito clara. Nós não temos uma boa qualidade nos serviços e não podemos correr o risco de precarizá-los ainda mais. E a proposta do governo gera essa insegurança.
ConJur — Há carreiras públicas que normalmente não são consideradas típicas de Estado, mas que são fundamentais para a sociedade, como as de saúde e educação. Elas serão ainda mais precarizadas?
Simão — Pois é, como é que você atrai bons profissionais nessas áreas sem uma perspectiva de carreira? A não ser que o governo, como eu disse antes, deseje que algumas atividades sejam prestadas por particulares, por empresas, com outros tipos de arranjos. De qualquer forma, o que está em curso é um claro processo de desprestígio das carreiras públicas, principalmente aquelas que são tradicionais, como as de educação e saúde, e o impacto disso é muito difícil de perceber sem saber exatamente como elas serão organizadas a partir dessa proposta de reforma.
ConJur — Os militares não foram incluídos na proposta. A inclusão deles faria muita diferença ou seria mais um gesto simbólico?
Simão — Eu diria que seria simbólico. As organizações militares têm uma estrutura completamente distinta, são diferentes. E eu acho que, em que pese hoje termos muitos militares exercendo atividades civis, eu pessoalmente acredito que eles têm de ser tratados de formas separadas. Mas talvez o pior tenha sido a não inclusão de membros de outros poderes, com o argumento de que o governo não teria competência constitucional para isso. Na minha opinião, é um equívoco. O governo tem competência, sim, até porque encaminhou a proposta de reforma da Previdência alcançando os membros dos demais poderes.
ConJur — Muitos críticos da proposta de reforma administrativa dizem que ela mexe muito com os servidores públicos da base da pirâmide, aqueles que ganham os salários mais baixos, e poupa os do topo. É correta essa leitura?
Simão — Acho que, no que se refere à inclusão de membros de outros poderes, juízes, Ministério Público etc., é correta, mas essa é uma distorção que vai ser corrigida no Congresso, eu não tenho dúvida disso. Mas a avaliação de desempenho vai se aplicar a todos, inclusive para quem está no topo das carreiras do Executivo. Então, é correto dizer que a reforma poupou membros de outros poderes, mas não é correto que tenha poupado os que estão no topo da Administração, nas melhores carreiras. Esses serão serão alcançados pela avaliação do desempenho, e deveriam estar preocupados com isso porque, se o modelo de avaliação não for bem desenhado, há sério risco aqui de um manejo indevido desse instrumento.
ConJur — A proposta do governo só alcançar os futuros servidores. Dessa maneira, trará algum alívio aos cofres públicos em um curto prazo?
Simão — Só há uma forma de você ter esse alívio: fazer rapidamente esse processo de estruturação das carreiras e fazer com que as futuras contratações, de reposição dos servidores que vão se aposentando, já ocorra em uma nova base, com remuneração de entrada menor. Mas, no curto prazo, esse impacto é muito pequeno. Eu não acredito que a gente vai ter algo relevante nos próximos cinco anos.
ConJur — O senhor fez parte de uma das administrações do PT, que carrega a fama de ter "inflado" o quadro de servidores para fins políticos, naquilo que se chama de aparelhamento da máquina estatal. Essa acusação é justa?
Simão — Acho que esse raciocínio é sempre simplista. E se você não analisar a evolução dos gastos da folha e o que aconteceu com as carreiras, você vai chegar a uma resposta também equivocada. Vou dar aqui um exemplo que eu vivenciei. No final do governo Fernando Henrique Cardoso, eu era diretor do INSS e houve um processo de terceirização do atendimento e da própria perícia médica. Aí, em 2003, o Tribunal de Contas da União entendeu que essas terceirizações eram irregulares. E por quê? Porque se tratavam de servidores que tomavam decisões administrativas. O TCU deu, então, um prazo para que a Administração revertesse o processo de terceirização. Isso aconteceu no INSS e certamente em outros órgãos também. E o que fez a Administração? Concurso público, contratou servidores, o que obviamente aumentou o gasto com a folha de pagamento.
ConJur — Então o governo petista foi, naquele momento, obrigado a aumentar a folha salarial?
Simão — Porque houve necessidade de efetivação. Ao mesmo tempo, o governo do PT estruturou melhor as carreiras, todas as carreiras tiveram melhorias. Estou falando aqui de advocacia pública, de auditoria e controle, de auditor da Receita Federal, de delegado da Polícia Federal, diplomata… Essas carreiras praticamente foram niveladas do ponto de vista de remuneração, com ganhos expressivos. Ou seja, fortaleceram-se as carreiras que são típicas de Estado, que, na minha opinião, têm de ser fortalecidas mesmo. Agora, talvez o erro tenha sido deixar as remunerações de entrada muito altas. Um servidor entra ganhando um valor aí de R$ 15 mil por mês, até mais, e às vezes é recém-formado. A remuneração não é compatível com a de mercado. E os servidores têm uma carreira muito curta do ponto de vista do seu desenvolvimento até atingir o teto. Eles atingem o teto com poucos anos de cargo, o que traz uma frustração. Então, na minha opinião, a crítica correta é que as remunerações de entrada são muito altas. Mas há outras críticas que não são corretas
ConJur — Como quais, por exemplo?
Simão — Seria honesto identificar quais foram as carreiras que tiveram contratações que não precisariam ter sido feitas (nos governos do PT). Aí, sim, a gente teria honestidade intelectual nesse debate. Então, o que houve foi a reversão de uma terceirização, que era uma tendência no final do governo Fernando Henrique Cardoso, mas uma reversão que nem ocorreu por crença do PT, e, sim, por determinação do órgão de controle. Nos últimos anos do governo (Dilma Roussef), discutiu-se a possibilidade de terceirização de atividades de suporte, que certamente poderiam ser terceirizadas.
ConJur — E o que faltou para essa ideia avançar?
Simão — Olha, é claro que esse é um tema muito sensível. Acho que faltou um amadurecimento, um convencimento das pessoas certas para que esse fosse um caminho a ser seguido. E volto a dizer: não é um assunto simples, né? Nós tivemos, no governo Temer, discussões nesse sentido, e pouco se avançou na questão da terceirização, no governo atual também, e também pouco se avançou.
ConJur — O governo poderia ter feito uma proposta de reforma mais aprofundada do que a que foi apresentada?
Simão — A minha leitura, e isso é mera especulação da minha parte, é que o governo fez uma avaliação do que era possível encaminhar do ponto de vista político, de resistência. E, nesse aspecto, é compreensível que a proposta se resuma a isso. Agora, uma reforma do Estado mais profunda, que alcance todos os poderes, ela não pode ser encaminhada sem que o tema seja debatido profundamente com a sociedade. Porque se não há um aprofundamento desse debate, envolvendo academia, sociedade, órgãos de governo, é muito difícil se construir algo que pare em pé e que seja aprovado.